
Meu pai, José Francisco, era pedreiro e analfabeto. Minha mãe, Eunice, era costureira e frequentou até a quarta série do primário. Eles têm uma história teatral.
Ambos paranaenses, conheceram-se em Wenceslau Brás, cidade natal de minha mãe. Ela, evangélica, que vivia na zona rural, estava na cidade na casa de uma irmã mais velha e casada, aprendendo corte e costura com a dona Paulina, uma amiga de sua família. Meu pai, católico, natural de Jacarezinho, estava trabalhando na construção de uma casa vizinha à da dona Paulina.
Apaixonaram-se. Mas a família da minha mãe não via com bons olhos aquele romance. E enquanto aprendia o ofício da dona Paulina, minha mãe costurou seu próprio vestido de noiva. Depois de muita confusão, meu avô teve que ceder e permitir o casamento dos dois. E como meu pai não se converteria à religião da família da minha mãe, ele, meu avó, foi taxativo e não permitiu que os dois se casassem na igreja.
Com a união realizada somente no civil, minha mãe foi viver com meu pai em outra cidade. Levou consigo uma mala e seu vestido de noiva dentro. Nos primeiros anos de casamento nasceram meus irmãos mais velhos e ela nunca deixou de alimentar o desejo de se casar, um dia, vestida de noiva.

Como costureira, especializou-se em confeccionar vestidos de noiva. E ficou popular como costureira de vestidos de noiva. Um dia rasgou a blusa de domingo de uma de minhas irmãs. Minha mãe tirou um pedaço de seu vestido de noiva e remendou a blusa da minha irmã. Daí, pra consertar o vestido de noiva dela, tirou um pedaço de tecido de uma cliente que tinha comprado tecido a mais e remendou mais uma vez o seu vestido.
E desse modo seu vestido de noiva foi se transformando. Virou, inclusive, em algum momento, a roupa de batismo de um de meus irmãos. Mas ela sempre encontrava um jeito de refazer este seu vestido. Dona Eunice só conseguiu realizar o seu sonho de entrar vestida de noiva numa igreja anos depois de seu casamento no civil, quando já tinha três de seus filhos.
Somos seis irmãos. Eu sou o de número cinco. Nasci em Ribeirão Claro, interior do Paraná. Meu nome de batismo é Ivam Guilherme porque nasci no dia 25 de junho, dia de São Guilherme. De formação católica rigorosa, não se permitiam, naquela época, batismos em bebês que não tivessem nomes de santos. Asssim, o Ivam Cabral do registro civil, virou Ivam Guilherme Cabral no batistério.
Ivam com eme é um “erro de cartório”. Deveria ter sido grafado com ene, mas meu pai, totalmente analfabeto, não conseguiu detectar o imprevisto. E meu nome é Ivam por causa de um chefe do meu pai, um engenheiro que era seu chefe na CBPO – Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que na época do meu nascimento construía a hidrelétrica de Xavantes, nos anos 1960. Meu pai gostava tanto deste seu chefe que resolveu homenageá-lo.
Meus irmão se chamam: Irineu, Ivani, Irani, Edmir, o Dimi e Cláudio. Tivemos uma formação muito humanista. Apesar das dificuldades, tínhamos o pulso firme da minha mãe que não tinha estudado mas que queria que seus filhos frequentassem a universidade. De certa forma, conseguiu empreender isso em seus filhos: um otimismo grande para acreditar que a vida estava ali para ser vivida e que era possível reverter aquele quadro de miséria.

Sim, éramos muito pobres. Vivíamos numa pequena casa de madeira amarela com janelas azuis, a cem metros da igreja matriz. Quando vinha algum temporal, a minha mãe colocava toda a família em baixo de uma mesa de madeira que ficava na cozinha. Temia que a casa desabasse e ali, em baixo daquela mesa, estaríamos protegidos. Perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu, muitas vezes durante a madrugada, quando dormíamos. Acordávamos sempre assustados e rezávamos muito, pedindo a proteção dos Deuses.
O trabalho de meu pai na CBPO durou pouco tempo. Assim, sem trabalho na minha cidade, durante quase toda a minha infância o meu pai teve que trabalhar fora. Visitava a família uma vez por mês quando trazia o dinheiro para as despesas de casa.
Meu primeiro trabalho foi como engraxate, aos seis anos. Meu pai construiu uma caixa branca para mim e outra para o Cláudio, que era um ano e oito meses mais novo do que eu. Somente às sextas e sábados saíamos para a rua. Nosso ponto era a praça da igreja matriz e a nossa féria ajudava nas despesas de casa.
Muitos tropeços aconteceram nestas idas e vindas do meu pai. Num desses, ele estava trabalhando em São Paulo e foi assaltado na Estação da Luz. Chegou em casa, numa manhã, numa depressão profunda, sem nenhum puto no bolso.
Me lembro que nem dinheiro pra voltar ele tinha. E minha mãe, com seis filhos e dando um duro danado em sua máquina de costura, teve que sair pela vizinhança pedindo dinheiro emprestado para que meu pai pudesse comprar uma passagem de ônibus pra São Paulo e voltar ao trabalho.
Os dias que se sucederam foram intermináveis. Mas minha mãe, sempre otimista, encontrara uma saída. Como seus sonhos eram elogiados, resolveu investir o seu último dinheiro na compra de farinha de trigo, açúcar, marmelada…
Era uma segunda-feira e eu havia voltado da escola. Estava no terceiro ano. Tinha oito ou nove anos. Naquele dia, surpreendentemente, encontrei a minha mãe feliz. Os sonhos estavam todos preparados numa cesta coberta com um pano de prato bordado com flores. E eu fui o escolhido para sair às ruas e vender os doces. Fazia muito calor. O sol daquele início de tarde queimava aquele chão negro. E eu comecei a subir a minha rua.
— O sonho. Olhe o sonho. Quem vai querer comprar? – ia repetindo enquanto caminhava pelas ruas.
Horas depois eu estava do outro lado da cidade, sentado no meio-fio de uma calçada, aos prantos. Não conseguira vender um único sonho. E olhava pra aquela cesta à minha frente e aquele bordado de flores. Foi a minha primeira grande crise. Pensando nos olhos felizes da minha mãe no início daquela tarde, na minha cabeça uma única pergunta:
— Deus, o que eu faço com esses sonhos?

Na igreja, comecei como coroinha e cheguei a ser líder da Cruzada Eucarística. E foi neste momento, com dez, onze anos que descobri o meu amor pelo teatro. Eu e uns amigos organizamos um grupo de discussão e estudos dramatúrgicos. Foi por esta época que comecei a estudar sobre o teatro brasileiro e descobri a obra de Nelson Rodrigues.
Também neste período comecei a ler muito. Apesar da pobreza e da falta de recursos, a minha mãe tinha fixação por livros. Era comum, naquela época, nos anos 1970, a visita de vendedores de enciclopédia em nossa porta. Minha mãe era sempre uma cliente especial. Comprou a enciclopédia Trópico, alguns volumes da Barsa e muitos romances.
Um destes romances, e o primeiro que eu me lembro de ter lido, foi “O Feijão e o Sonho”, do Orígenes Lessa. Mas devorei também vários livros de contos do Machado de Assis e do José de Alencar. Me interessei por poesia e iniciei, sem nunca ter completado, uma coleção que a Civilização Brasileira publicava, as “Poesias Completas”, da Cecília Meireles.
Se por um lado a minha mãe era apaixonada por livros, por outro, o meu pai adorava música. Nunca deixamos de ter um bom aparelho de som e sempre mais de um rádio em casa. A televisão chegou tarde pra mim, quando eu já tinha dez anos. Assim, nossas noites eram animadas pelos sons que vinham da rádio Graúna, de Porto Alegre; rádio Atalaia, de Curitiba; rádio Nacional, do Rio de Janeiro. Nosso maior divertimento, era ouvir “A Turma da Maré Mansa”, que nos anos 1970 era apresentado na rádio Globo, do Rio de Janeiro.
O rádio teve uma grande influência na minha vida. Passava sempre muitas horas do meu dia ouvindo rádio. E os discos do meu pai, que eram sempre muitos. Seus ídolos na época: Cascatinha e Inhana, Ângela Maria e Vicente Celestino.
E apesar de amar música e viver com um rádio portátil o tempo todo pela casa, meu pai nunca cantou uma música sequer. A única canção que ele balbuciava, quando alguém insistia muito, era “Beijinho Doce”, do Nhô Pai.

Meus irmãos mais velhos tiveram muita importância na minha infância. Nosso primeiro aparelho de televisão, uma Colorado RQ, foi comprado pelo meu irmão Irineu, que transportou o aparelho no bagageiro de um ônibus vindo de São Paulo. Era ele também nos presenteava com com muita música. Escrevia cartas para ele relacionando os discos que queria. Ele, prontamente me atendia.
Irineu, o primeiro dos filhos de José Francisco e Eunice, sofreu mais do que os outros. Iniciou sua carreira profissional como pedreiro, depois como soldador. E mesmo com as imensas dificuldades que ele devia passar, nunca deixou de cuidar dos irmãos mais novos com um carinho extremo. Aos dez anos, ganhamos dele uma máquina de escrever, uma Olivetti portátil verde.
A Ivani se casou cedo. E aos seis anos ela me deu uma sobrinha de presente. A Irani foi uma segunda mãe. Eu era o seu irmão preferido e ela me tratava com um amor especial. Até os cinco, seis anos, eu a chamava de mãe, por pura insistência dela. Quando arrumou seu primeiro namorado, me repreendia severamente quando eu me referia a ela como mãe. Hoje eu sei que eu causava várias saias justas à ela. Mas como entender isso aos seis anos?
Eu devia ter uns doze ou treze anos quando aconteceu a minha estréia no teatro com a peça “A Fada dos Moranguinhos”, com texto e direção de uma de nossas professoras, a dona Maria Luíza Perdão, apresentada na sede Mariana. Na peça, eu fazia parte do coro e interpretava um morango.
O texto contava a história de Rosinha, uma camponesa que, num belo dia, num ato de rebeldia porque não queria fazer seus afazeres domésticos, vai até o campo colher morangos e se depara com uma bruxa malvada que a transformará em uma de suas servas. No final, arrependida, é socorrida pela sua fada madrinha. Na verdade eu fazia parte da figuração e limitava-me a dizer uma única fala, no início da peça quando a rebelde Rosinha se aproxima do morangal:“Moranguinhos doces
Estejamos acordados
De fato já perceberam
Somos nós os desejados.
Psiu, aí vem ela!”

Ainda na Cruzada Eucarística, e sempre na sede Mariana, atuei em “Dan, a Pequena Mártir de Cristo”, ainda com direção da minha professora Maria Luíza. Depois dirigi “Joãozinho e Maria”, com o meu irmão Cláudio como protagonista. Talentoso e expressivo, encerrou sua carreira nesta sua primeira experiência teatral. Poderia ter se tornado um ator interessante…
E por falar em irmão artista, acho que eu comecei a me interessar pela atuação por causa de um de meus irmãos mais velhos, o Dimi. Me lembro de uma apresentação dele cantando, acompanhado da bandinha municipal, na Festa da Amizade, que era realizada anualmente na primavera. Ele cantou “Meu Benzinho”, um sucesso da Waldirene, uma das musas da Jovem Guarda. E estava tão lindo!
“Meu benzinho
Oh, meu benzinho
Eu quero sempre estar
Com você bem juntinho
O seu olhar para mim
É um mundo cheio de carinho…”
E eu nunca mais esqueci aquele momento. Eu era muito pequeno, devia ter uns quatro ou cinco anos. Mas o orgulho que eu senti ao vê-lo ali, naquele palco improvisado, cantando e dançando como profissional.
O Dimi desistiu de sua carreira depois desta apresentação. Não segurou a onda dos amigos da escola que o chamavam de “pó-de-arroz”, “mariquinha” e estas coisas que eu acabei ouvindo também quando comecei a colocar minhas asinhas de fora, na Cruzada Eucarística.
Mas eu tenho certeza de que o Dimi foi um espelho pra mim. Costumo dizer que comecei a imitá-lo e nunca mais parei. Curiosamente ele veio a trabalhar comigo no teatro muitos anos depois, primeiro como técnico e depois como braço direito na administração dos Satyros. E até chegou a fazer uma peça profissional como ator em Portugal, o “Rusty Brown em Lisboa”, dirigido pelo Rodolfo. E, diga-se de passagem, arrasou. Mas eu acho que até hoje ele não superou os insultos dos colegas de colégio quando cantou aquele sucesso da Jovem Guarda.
Ainda na minha infância, tínhamos um quintal muito grande, com uma horta ao fundo. Não raras vezes, comíamos o que plantávamos. Foi uma época difícil, de grandes lutas. Meu pai ganhava um salário mínimo e minha mãe era mais uma das várias costureiras que a minha pequenina Ribeirão Claro viu labutar.

O barulho da tesoura cortando tecidos, da máquina de costura em movimento; as revistas velhas de moda e as visitas de sua clientela, sempre feminina. São imagens que nunca mais saíram da minha memória. As dificuldades para comprar o material escolar no início do ano; a falta de dinheiro para a merenda na escola… também são recortes muito presentes.
Outro fato importante que aconteceu na minha infância é que eu arrumei trabalho de sonoplasta na igreja matriz. Tinha a madrinha Maria Miguel que era a responsável pela limpeza da igreja e era ela quem adornava o altar e enfeitava o lugar para os casamentos. E, com uma vitrolinha Phillips, que era de sua filha, negociava a sonoplastia daquelas bodas.
Como ela não tinha muito jeito para a música e o manuseio da vitrola, me contratava para fazer isso para ela. Era comum eu estar em casa e ser chamado para mostrar algumas músicas para que as noivas escolhessem os temas de suas bodas.
Eram três músicas: uma para a entrada, outra para a benção das alianças e uma para a saída dos noivos. As que faziam mais sucesso eram os arranjos do Waldo de Los Rios para as composições de Mozart e Brahms; “Il Silenzio”, do Nino Rosso; “Dio, Come ti Amo”, com a Gigliola Cinquetti; e “Fale Baixinho”, com o Wanderley Cardoso que era uma versão de “Speak Softly Love”, tema de amor do filme “O Poderoso Chefão”.
Aos quinze anos eu era famoso na minha cidade. Comecei a organizar, no hoje extinto cine Brasil, um espetáculo musical que eu chamei de “Por Trás das Cortinas”. Sem nunca ter visto um espetáculo teatral profissional, criava pequenos quadros musicais e cômicos que eram apresentados em sequências. E fazia sempre muito sucesso em apresentações sempre abarrotadas de público.
Foi neste perído que a dona Sussa e a dona Mazir, que eram do Lions Clube e que animavam as noites artísticas do Clube Atlético Ribeirãoclarense, frequentado apenas pela elite da cidade, me chamou para atuar em um espetáculo que elas faziam anualmente, o “Quem é Quem”. Foi um salto grande na minha ascensão social. Porque eu devo ter sido o único artista daquele show que não era associado ao tal clube. Uma coroação, portanto.

Mas é bacana falar disso. Porque ser pobre em uma pequena cidade é muito diferente de ser pobre numa metrópole. Em Ribeirão Claro só havia um colégio. Assim, o filho do pedreiro estudava na mesma classe do filho do juíz e, desta forma, as diferenças sociais acabavam se diluindo.
Aos dezessete anos entrei na universidade, na mesma época em que fui servir ao Exército, onde cheguei a ser cabo. Sem muita opção, ainda morando no interior, escolhi cursar Administração de Empresas em Ourinhos, cidade a quarenta quilômetros de Ribeirão Claro. Nesta época eu trabalhava num escritório de contabilidade e o meu salário custeava a minha faculdade.
Aos dezoito anos estava vivendo em Curitiba. Morávamos eu e o Dimi numa república com mais cinco conterrâneos. Havia transferido a minha faculdade para lá e nessa época a minha vida se resumia ao curso de Administração de Empresas e ao trabalho burocrático numa grande empresa.
Aos vinte anos eu realizei um sonho que foi o de morar sozinho. Fui viver num apartamento muito próximo ao Teatro Guaíra. Nesta mesma época comecei a trabalhar na Corretora de Valores do Banco do Estado do Paraná, onde atuava no mercado financeiro. Entendia tudo de ações, bonificações e dividendos e cheguei a operar na Bolsa de Valores do Paraná.
E foi nessa época que comecei a frequentar bastante teatro. O primeiro grande espetáculo que eu vi foi “À Moda da Casa”, de Flávio Márcio, com a Yara Amaral (que também assinava a direção) e Henriqueta Brieba no elenco. À partir deste dia nunca mais fui o mesmo. Saí do teatro decidido a perseguir o meu sonho no teatro. Mas por onde começar?
Um dia eu estava indo embora do meu trabalho e passei em frente ao Teatro Guaíra. Uma placa em branco e amarelo anunciava: “O que vale é o talento”. Havia as máscaras da tragédia e da comédia e mais embaixo lia-se: “abertas as inscrições para a primeira turma do Curso Superior de Artes Cênicas”. Eu estava em crise, na faculdade de Administração de Empresas eu acumulava várias dependências.
Fazia muito calor e eu me sentei em um banco em frente ao Teatro Guaíra, na praça Santos Andrade, lendo e relendo dezenas e dezenas de vezes aquele anúncio, e fiquei imaginando o que seria dar um salto no escuro na minha vida: abandonar o curso de Administração de Empresas, pedir a conta no meu trabalho e me aventurar num mundo onde tudo para mim seria novidade.

Parte do sonho eu realizaria no ano seguinte, quando, depois de ter passado no vestibular, me matriculei no curso de Artes Cênicas, num convênio entre o Teatro Guaíra e a PUC/PR. À partir daí a minha vida sofreria uma grande transformação.
Foram mágicos aqueles primeiros anos no teatro. Descobri um mundo inimaginável, completamente diferente do que tinha idealizado. E o encontro com mestres como Hugo Mengarelli, Lilian Fleury Dória e Ivanise Garcia foram fundamentais na minha formação. E foi neste curso que eu conheci Silvanah Santos, que viria a se tornar uma grande companheira na minha vida no teatro.
Também foi um período onde vi muito teatro. E estava cada vez mais apaixonado po r este meu novo ofício. Mas um espetáculo marcaria definitivamente este meu momento: “O Despertar da Primavera”, com o Boi Voador. O grupo chegou em Curitiba e nós, do curso de teatro, hospedamos os atores em nossas casas. E tivemos o privilégio de acompanhar os ensaios que o elenco fazia no palco do Guairinha.
O Ulysses Cruz, que dirigia aquele trabalho, foi o espelho fundamental para que eu quisesse empreender o caminho que acabei seguindo: o do teatro de grupo. Porque houve uma identificação muito grande, não exatamente com a linguagem do Boi Voador, mas com a forma com que eles viam e viviam o teatro.
Nesta altura comecei a escrever para teatro. Meu primeiro texto, “Qualquer Semelhança é Mera Coincidência”, escrito em 1985, estreou no ano seguinte, no teatro Guaíra, com direção de Izabella Zanchi, e com um elenco formado por colegas da faculdade.
Eu era um péssimo ator. Ninguém ali naquele curso de teatro creditava qualquer expectativa em mim. Meus colegas, numa tentativa de levantar a minha bola, me incentivavam para a direção. Mas eu não tinha o mínimo interesse em em me tornar diretor. Queria mesmo era ser ator e só isso. Mas para me livrar das acusações de que era um ator medíocre, mentia a todos eles que estava estudando interpretação apenas para entender melhor o complexo mecanismo de um intérprete. E foi assim, apenas dessa maneira, que consegui concluir a minha formação naquele curso de atores. Não fosse isso, teriam me eliminado já no início.
Curioso, no entanto, é que consegui grandes papéis em nossas peças na faculdade. Fui o Teteriev, em “Os Pequenos Burgueses”, de Máximo Gorki; o Noivo, em “Senhora dos Afogados”, de Nelson Rodrigues; o dom Perlimplim em “O Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim”, de García Lorca; o Viloro, em “A Bicicleta do Condenado, de Fernando Arrabal.
Mas no final de 1988, quando enfim concluia o curso de Artes Cênicas, eu tinha um só desejo: ser fundamental para o teatro. Me lembro dos meus colegas que se preparavam para ir para o Rio de Janeiro, investir em trabalhos na tevê. E o meu sonho era completamente outro: queria estruturar um grupo, fazer história, viajar pelo mundo. E São Paulo me parecia um destino ideal.

No dia 13 de fevereiro de 1989, uma segunda-feira, num ônibus da viação Garcia que saiu de Curitiba às 13h00, eu cheguei em São Paulo e encontrei uma cidade chorosa pela garoa fina que caia, insistente. Era a terceira ou quarta vez que vinha para São Paulo, e o único contato real que eu tinha na cidade era com o Márcio Ribeiro, o Marcinho, um amigo querido que eu tinha conhecido em Curitiba e que vivia na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte. Fiquei na casa dele por uns dias, provisoriamente.
Dias depois já estava instalado numa pensão na Liberdade e fui à Escola de Comunicações e Arte, da USP, obter informações sobre o curso de pós-graduação. Encontrei um anúncio que buscava atores. No dia 24 de fevereiro, aniversário do meu irmão Cláudio, eu estava na rua Rui Barbosa, respondendo ao tal anúncio. Conheci o Rodolfo García Vázquez neste dia, uma sexta-feira.
No dia 27 de fevereiro deste mesmo 1989, véspera do aniversário do meu irmão Dimi, uma segunda-feira, eu recebi uma ligação dizendo que às 19h00 começaria os ensaios de “Um Qorpo Santo” e eu seria dirigido pelo Rodolfo.
Fonte: Cia. de Teatro Os Satyros, de Alberto Guzik, Coleção Aplauso, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006



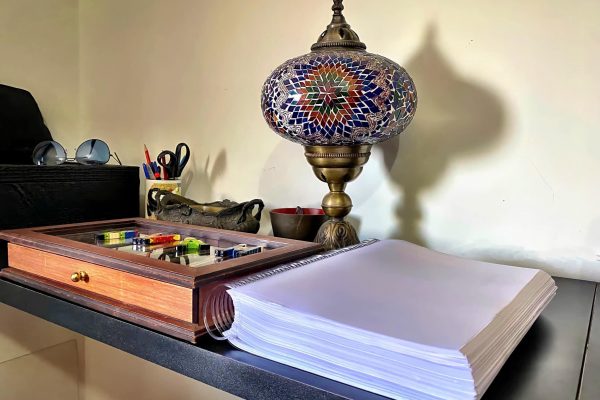

Jamais imaginaria sua história. Me surpreendeu e encantou. Mostra de determinação e coragem. Amei.
obrigado, <3