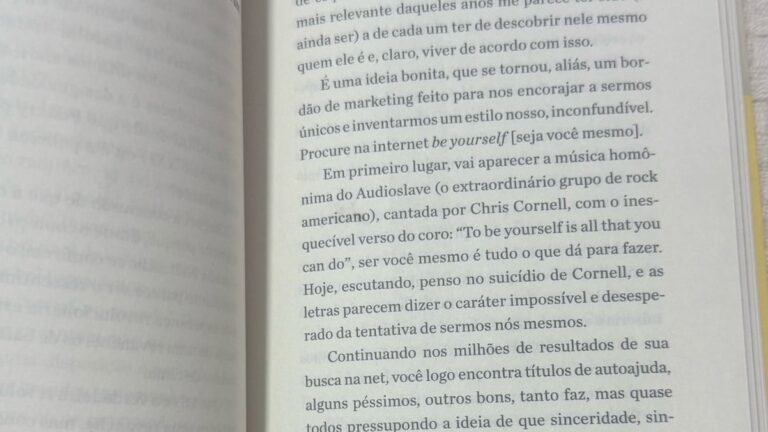A última vez que vi Contardo Calligaris foi no teatro. Não por acaso no teatro, mas porque ali eu acho que o tempo costuma se comportar de outro jeito. Foi numa apresentação do meu solo Todos os Sonhos do Mundo, no Espaço dos Satyros, nos últimos dias de 2020. Contardo chegou acompanhado de Maria Homem, sentou-se na plateia com a discrição elegante de quem sabe escutar. Não havia ali nenhum prenúncio de despedida, apenas o gesto simples de estar junto.
Depois disso, vieram as férias. E veio a pandemia, essa máquina impiedosa de suspender o mundo. O isolamento e, no início de 2021, o desfecho que todos conhecemos e que ainda custa a caber nas palavras. Contardo partiu em março daquele ano que parecia não acabar nunca. Mas, antes de ir, deixou mais um texto. Uma crônica publicada em sua coluna na Folha de S.Paulo, falando justamente de Todos os Sonhos do Mundo. Mal sabíamos – eu, ele, nós – que seria uma de suas últimas.
Ontem, ao encontrar o livro Aproveitar a Vida e suas Dores, senti esse tipo de aperto que não é só tristeza. É reconhecimento. Ali estava novamente aquela crônica, agora encadernada, fixa em algumas páginas, enquanto tudo o mais insiste em escapar. O coração se contraiu. Talvez porque dezembro sempre convide a esse estado de melancolia, em que a saudade não dói sozinha: ela pensa. E pensa com o coração.
O tempo, nesses momentos, parece se fragmentar em zilhões de partículas, tentando dar conta da permanência e, ao mesmo tempo, de todas as suas ambiguidades. É quando fazemos balanços, inventários afetivos, e procuramos alguma saída. Mesmo sabendo que saída nenhuma dá conta do que foi vivido.
Contardo foi central em muitos momentos da minha vida. Foi ele quem me deu a clínica. Costumava dizer que a psicanálise era meu campo de olhar mais importante. Que o teatro já havia me preparado para ela. E, fiel a essa leitura, recusou-se a desenhar para mim um caminho de formação formal. Em vez disso, desenhou algo muito mais exigente: um projeto. Ler. Ler muito. Pensar. Conversar. Errar junto. Desde 2010, comecei a seguir esse percurso que, só mais tarde, entendi. Aquilo já era a minha formação em psicanálise.
Ele me apresentava um texto, um autor, uma ideia. Depois, discutíamos. Às vezes em casa, às vezes em algum restaurante do centro da cidade, madrugada adentro. Falávamos de livros, filmes, peças, daquilo que insistia em dizer algo sobre o humano. Era uma mentoria sem crachá, sem certificado, mas com densidade rara. Uma formação feita de presença. Acompanhei, ao longo dos anos, todos os seus projetos literários e também seus trabalhos no audiovisual. Foi intenso.
Fui cauteloso. Procurei escolas, fiz especializações – mais de uma, várias –, demorei a me nomear psicanalista. Talvez por respeito ao que ele havia plantado. Contardo sempre será meu mestre. Não somente no sentido hierárquico da palavra, mas no sentido mais profundo. Aquele que autoriza um olhar.
Ontem, caminhando pelo centro de Curitiba, entrei na Livraria Curitiba à procura de pequenas lembranças para meus sobrinhos. E encontrei, sem procurar, Contardo. No livro. Na crônica. No gesto. E ali, falando da peça e de mim, ele escreveu algo que guardo com carinho: “Ivam Cabral, em cena, conta a sua trajetória, suas batalhas contra a depressão e, sobretudo, sua origem em Ribeirão Claro, Paraná”.
Contardo, como eu, era profundamente ligado às origens. À infância. À geografia afetiva. Àquilo que nos funda antes mesmo que a gente saiba nomear. Ele escrevia sobre isso com frequência, transitando entre França, Inglaterra e sua Itália de nascença, sem nunca perder o fio do que o constituía.
Termino o ano assim. Com saudade. Mas também com gratidão. Porque algumas presenças não se despedem. Elas apenas mudam de forma. E seguem pensando com a gente.