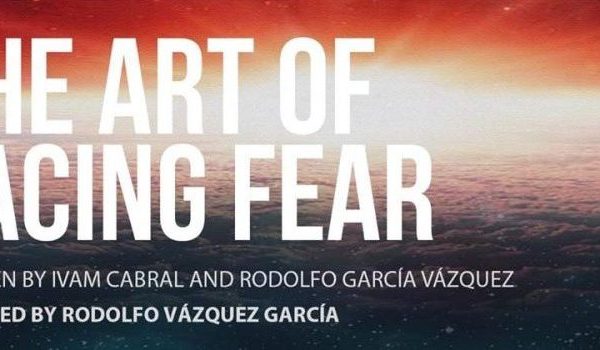Diretor reflete sobre peças online na pandemia e volta de espetáculos presenciais
Aderbal Freire-Filho
Diretor e ator de teatro, montou mais de cem espetáculos. Recebeu, entre outros, os prêmios Molière e APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e, em 2009, a Ordem do Mérito Cultural
[RESUMO] Autor compara a evolução do teatro e do futebol e pondera se a pandemia de coronavírus pode consolidar o modelo de streaming nas artes cênicas, ampliando o público, antes restrito aos espetáculos presenciais, em movimento semelhante ao ocorrido com a transmissão de partidas de futebol décadas atrás.
Uma pergunta frequente nesses tempos de pandemia tem merecido reportagens, artigos, entrevistas: como será a volta do teatro depois da pandemia?
O crítico e filósofo francês Roland Barthes, especulando sobre a atualidade da tragédia grega na pólis de hoje, ou seja, pensando se dá para comparar Atenas com Copacabana, disse que o que hoje mais podia se aproximar dos festivais trágicos daqueles dias seriam as grandes competições esportivas. Um campeonato de futebol, por exemplo: um período certo do ano, gente de todas as camadas sociais assistindo, um grande vencedor no final…
Depois dessas novas guerras médicas (não dos gregos contra os medas, mas dos médicos contra o coronavírus e os clorocharlatães), quero me valer dessa comparação feita a propósito de uma morte na história do teatro (a dos grandes festivais trágicos) para associar a volta do teatro à volta do futebol.
Ora, o futebol já está voltando e o teatro ainda não. Mudou o futebol ou mudaria Roland Barthes?
Ambos, futebol e teatro, são acontecimentos-espetáculo, um encontro entre os artistas (do gramado, do palco) e o público.
Mas, há cerca de cem anos, o futebol, mesmo ao custo de perder grande parte da sua emoção, começou a aumentar sua plateia. Primeiro pelo rádio, em que mestres de cerimônias, os locutores esportivos, tentavam compensar a perda da emoção dos estádios: com relatos dramáticos, um “cooorpo estiraaaado” no chão; com gritos escalafobéticos, “goooooooooooooooooooool”; criando expectativas e tensões, todo o estádio em silencio, o “centerfoward” coloca o balão de couro na marca do pênalti…
A plateia aprendia a ver o espetáculo de longe ouvindo esse décimo segundo artista do elenco, estrelas como Oduvaldo Cozzi, Waldir Amaral, Fiori Gigliotti, que jogavam com Domingos da Guia, Zizinho, Pelé, Garrincha e Nilton Santos…
Décadas depois, além da voz e da narração, a tecnologia introduziu a imagem nas transmissões esportivas. Primeiro em preto e branco, a televisão trouxe o futebol para dentro das casas. Até que um dia vimos um inesquecível espetáculo de futebol em cores —a Copa do Mundo de 1970— e o mundo virou um grande maracanã.
E esta é a diferença, “that’s the question”: o futebol já tem hoje muito mais público em casa do que no estádio, enquanto o teatro só tem o público presente na sala de espetáculos. A hora é essa, dirão os streamers, vamos aproveitar então essa porrada na cabeça e abrir a plateia dos teatros para os sofás de casa. Quem sabe, a redenção econômica do indigente teatro, em lugar de 150 lugares, 150 mil.
Bom, o primeiro que me vem a cabeça é um conto/crônica do Fernando Sabino sobre a invenção da laranja (resumindo: o grande empresário que começa com o suco em garrafa, muda para caixinha, ah, perde o sabor, então na casca da laranja, muito suco em cada casca, não é rentável, ah, e se botamos uns gomos…).
Não é a primeira vez que penso nele no teatro. Já tinha pensado antes vendo um espetáculo em que os atores, depois da primeira parte, pediam aos espectadores para sair da sala. Nos levantávamos, saíamos todos e daí a pouco nos chamavam de volta e víamos que eles tinham mudado o cenário (vocês não vão acreditar, mas era um grupo de vanguarda). Eu pensei: um dia eles inventam a cortina. Pois o teatro por streaming, nada não, nada não, um dia vai inventar o cinema.
Vejo muitos artistas aderindo a esse recurso, para se manterem vivos. Viva! Mas não será o caso de pensar nisso como em alguma coisa temporária, inventada a vacina para o coronavirus esse mal passa? Um amigo descrente me diz que o teatro por streaming pode ter alguns nomes: cinema caseiro, ex-teatro, cinema ruim, por aí…
Como no conto do Sabino, vai chegar lá: “ah, sem uma montagem não fica bom”; “ah, falta escolher melhor os planos”; “ah, seria preciso ter umas cenas externas”; “ah, pra que tanto texto?”; “ah… ah…” Resultado: vão acabar inventando o cinema.
Dito de outro modo: o teatro fora do teatro começou a ser inventado no fim do século 19, foi chamado de cinematógrafo e logo de cinema (do grego “kinema”, movimento); no fim dos anos 20 do século passado ganhou som (juntou-se com o fonógrafo); depois conseguiu ganhar cores e daí para a frente segue ganhando novos e novos recursos técnicos (e poéticos, claro).
Paradoxalmente, o avanço da tecnologia teve alguns efeitos letais: o cinema, que ia matar o teatro, em certo sentido acabou morrendo antes. Falo das salas de espetáculo-cinema: nós, os cariocas dos vários grupos de risco, do tempo do Azteca, na rua do Catete, dos Cines Metro (Passeio, Copacabana e Tijuca), do Cine São Luiz, dos cinemas de bairros, somos testemunhas oculares dessa história. As grandes salas fecharam, algumas viraram quatro, cinco salas pequenas, os cinemas novos são conjuntos de salas pequenas etc. E, quem sabe, só continuam pela nostalgia da tela grande: ah, nada como ver numa telona!
Aqui, chego ao teatro. Nosso caso não é saudade de palcão, é saudade de gente na nossa frente, do nosso lado.
Será que o streaming vai resolver? Meu amigo descrente diz que não, mas como não sou radical faço eu mesmo o contraditório. Há relativamente pouco tempo, foi lançado um livro de crítica de cinema do príncipe dos poetas brasileiros, Guilherme de Almeida. Muitos (eu, por exemplo) se surpreenderam com a revelação dessa face do poeta: Guilherme de Almeida tinha uma coluna sobre cinema em um jornal paulistano da época, os anos 1920, 1930 e nos primeiros anos comentou o único cinema que existia, o cinema mudo.
A parte do livro que mais me encantou foi a que mostra uma enquete que ele fez com seus leitores. Respondendo a uma pergunta do colunista sobre o que esperavam do cinema sonoro que se anunciava, a quase unanimidade dos leitores dizia que era um absurdo, que não ia dar certo, que se passasse a ser falado não seria mais cinema.
E, assim como imaginei os atuais defensores do teatro em rede como inventores da laranja, imagino agora meu amigo descrente como um dos leitores da coluna de cinema do Guilherme de Almeida diante da perspectiva do cinema sonoro. O cinema sonoro veio para ficar e só ele não se deu conta.
E, de fato, o cinema em rede tem características próprias, que podem dar a ele legitimidade e longa vida, para além de pandemias. A principal dessas caraterísticas é o que é chamado de “ao vivo” em teledifusão e radiodifusão, isto é, a qualidade de não ser gravado. É verdade que nem isso é novo, as primeiras telenovelas eram “ao vivo” (“frio na barriga”; “errou, errou”; “minhas dálias, onde estão minhas dálias”).
Aqui, graças aos avanços tecnológicos, tem também a “presença” dos espectadores, que podem inclusive praticar um dos atos mais próprios da arte presencial, o aplauso. Enfim, surgido e/ou desenvolvido durante o isolamento social obrigatório, o teatro online pode se transformar em mais uma arte com sua origem no teatro, como o cinema (teatro industrial) e o teleteatro (teatro eletrônico). Mistura de artes cênicas e dramáticas com reality show, o teatro online pode estar chegando para ficar, ter sua própria poética e afirmar-se como, digamos, a nona arte.
Volto ao meu tema central, jardim que inevitavelmente me levaria, como me levou, a muitas veredas que se bifurcam: como será a volta do teatro? O que dizer do que se diz dessa volta?
Ao mesmo tempo em que se fala de plateias reduzidas, de separação entre lugares na plateia, também se coloca a questão da distância entre os artistas do elenco.
Outra vez quero voltar a comparação com o futebol. Muito se tem falado sobre voltar com monólogos. Sem contar que os monólogos já vinham se tornando quase maioria nas temporadas teatrais dos países de cultura desassistida (o Brasil por exemplo), estaríamos estimulando uma vertente que não é, por natureza, a mais rica da tradição teatral. Não que não tenha tradição: o bululu, do final do século 16, gênero de teatro andarilho para um ator só, prova isso.
A dramaturgia adotou o gênero e autores destacados aderiram a ele: Pirandello, Cocteau, Beckett… Mas até pouco tempo eram exceções, como o caso do fenômeno brasileiro “As Mãos de Eurídice”, de Pedro Bloch, com o ator Rodolfo Mayer. Depender de monólogos seria como se o futebol sem estádio tivesse que disputar partidas de gol a gol, um goleiro de cada lado, chutões, nas rebatidas não passar do meio do campo.
Mas não é nada disso: o futebol de estádios fechados, que a TV vai transmitir para todos os sofás (e banquinhos, chão, cadeiras, camas…) terá 11 contra 11, juiz, bandeirinhas, gandulas, técnico e reservas ao lado do campo… E vai ter faltas, entradas duras, cinco pulando na área para cabecear. Está bem, proíbe-se comemoração coletiva de gol, aquele monte de homens se jogando uns por cima dos outros, nunca entendi como o Neymar, tão contundível, não tenha morrido numa dessas comemorações.
Tampouco jogam com máscaras. Fico imaginando a obrigatoriedade de máscaras em campo para os jogadores e juiz: assim como um jogador puxar a camisa do adversário é falta, me pergunto se puxar a máscara é motivo para expulsão. Deveria ser, o infrator quis expor o adversário ao coronavirus.
Pois muitas das especulações sobre o teatro pós-pandemia indicam que atrizes e atores deveriam usar máscaras.
Que máscaras? Afinal, de máscaras o teatro entende. As máscaras da tragédia e da comédia, a máscara do Arlequino, do Brughella, máscaras da commedia dell’arte, as máscaras do teatro balinês, tantas máscaras mais. Já essas máscaras de proteção contra vírus e bactérias, que estamos usando agora, não deixam de ser máscaras, mas…
Talvez esteja rolando uma pobreza de sinônimos por aqui. Vou me socorrer do espanhol, que para se referir a essas máscaras de proteção sanitária fala em “mascarillas”, em “barbijos” e, mais frequentemente, em “tapabocas”. Uma coisa é dizer que os atores agora vão ser obrigados a usar máscaras. É com a gente mesmo! Outra, oposta, é dizer que todos os personagens vão usar máscaras sanitárias. Tira de mim esse “tapabocas”!
No máximo, a poesia do palco ganha um signo. Imagino Hamlet colocando um “tapabocas” ao se aproximar de Claudio, que matou seu pai, para não se contaminar com o veneno dos seus crimes e mentiras: uma metáfora cênica que pode enriquecer a leitura dessa tragédia de Shakespeare e reafirma sua condição de poema ilimitado.
Ainda agora, pensando no último espetáculo que fiz antes da quarentena, com o Teatro El Galpón, do Uruguai, cuja versão brasileira queremos encenar no Teatro Poeira, imagino como pode ser expressivo que alguns personagens usem “tapabocas” quando se aproximem dos ditadores centro americanos, Trujillo, Somoza, hoje tão próximos de nós, dos mercadores de escravos, hoje tão próximos de nós, dos colonizadores, hoje tão próximos de nós…
Estamos vivendo uma escala distópica na rota do teatro, desde suas origens, em direção à utopia. E para retomar o caminho é preciso, antes de mais nada, deixar claro que essa escala distópica é provisória: é a não sociedade, e o teatro só existe no convívio social. Sem “tapabocas”.
Vamos voltar a Roland Barthes e combinar assim: o que os jogadores de futebol podem fazer, os jogadores de teatro também podem, isto é, vale tudo, menos beijo na boca. Pelo menos até a descoberta da vacina.