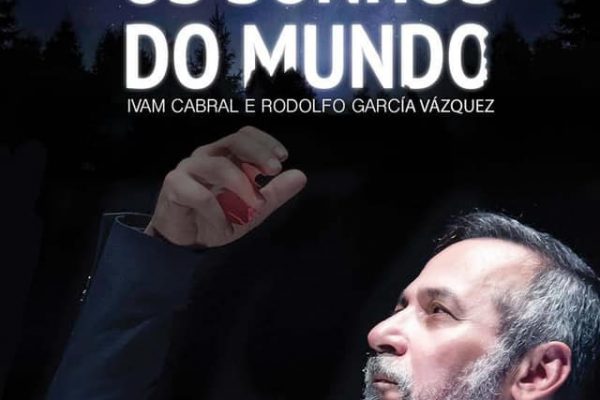Desde o começo, lá no finzinho dos anos 1980, a gente tinha essa mania de conversar com o entorno. Nada de construir muros em volta. A gente queria que o teatro respirasse junto com as ruas, com as pessoas, com a vida. O palco, pra nós, nunca foi altar. Antes, era chão de fábrica. O teatro não era templo, era construção. O ofício da cena, com cheiro de tinta fresca, com poeira de ensaio, com vozes que se misturavam no ar.
A gente sempre acreditou nas intersecções. Teatro com literatura, teatro com cinema, teatro com as artes visuais, teatro com a performance. O teatro, sozinho, parecia pouco. Queríamos que ele se contaminasse, que ficasse sujo, vivo, imprevisível. E, talvez por isso, nunca compramos a ideia do protagonista. Sempre achamos que a cena é de quem está ali. Todos temos o mesmo direito à luz, à fala, ao silêncio.
Foi dessa crença que nasceu o nome: Os Satyros. No plural. Porque somos muitos. Porque o teatro, pra nós, só existe quando é compartilhado. Quando há vozes cruzando o mesmo ar, corpos tropeçando uns nos outros, respirações se encontrando na penumbra.
Desde o início fomos a brincar com a ideia de multidão. E o que era coletivo virou coro. Então os elencos explodiram. Trinta atores, quarenta. E o público virava parte da massa. Lembro de uma noite, em 2013, quando fizemos Édipo na Praça, e a Cia. Uniópera se juntou a nós. Mais de cem vozes cantaram juntas. Cem. Foi um delírio. Não havia protagonista, nem plateia, nem fronteira. Era um corpo só. Vivo, respirando, pulsando. E cantando.
Talvez seja isso o teatro pra nós. Uma reunião de corpos que se reconhecem, ainda que por um instante. Um coro que diz, a muitas vozes, que o mundo continua possível.