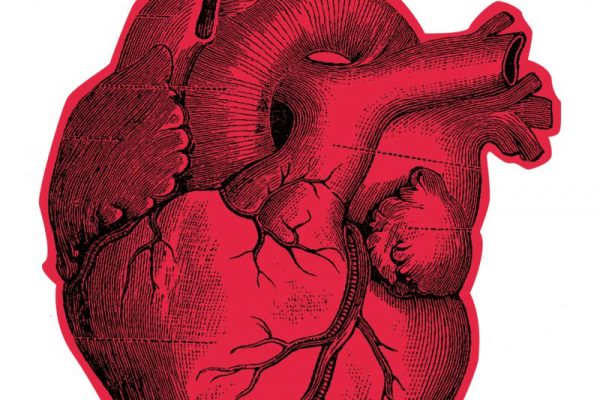Lisboa, 1995. A cidade ainda exalava um leve cheiro de verniz pós-Expo, o Tejo se fingia de oceano e, numa sala de uma associação modesta ao pé de Santos, um grupo de jovens experimentava os primeiros ruídos de algo que, anos depois, faria história: o coletivo Praga, um dos grupos mais radicais e consistentes da cena portuguesa.
Pouca gente sabe — e sejamos honestos, memória também é dramaturgia — que aquela fagulha inaugural surgiu das Oficinas Livres de Interpretação Teatral dos Satyros, ministradas por um punhado de brasileiros que atravessaram o Atlântico movidos pela convicção quase poética de que Stanislávski rima com madrugada.
Naquela sala, entre respirações compassadas e cafés que sabiam mais de urgência que de torra, formou-se um pequeno núcleo de jovens que fariam barulho: Pedro Penim, Claudia Jardim, Sandra Simões, Paula Diogo e Sofia Ferrão. Outros nomes se perderam na névoa do tempo — trinta anos borram lembranças como rímel em lágrima quente —, mas esses cinco ficaram impressos como fotos Polaroid que o tempo não teve coragem de apagar por completo.
A primeira investida dos Praga foi “O Concílio do Amor”, de Oskar Pannizza, encenada no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. Ensaiavam como quem dança rave: madrugada adentro, em uma associação que tremia a cada elétrico que passava. Já nasciam como vinham: ferozes, com cenários improvisados, ideias em ebulição e uma urgência quase animal de gritar ao mundo que outra cena era possível — e inevitável.
Logo, parte daquele bando ingressou na Escola Superior de Teatro e Cinema. Pedro não apenas concluiu o curso: instalou-se ali como professor, uma espécie de vírus luminoso que, em vez de contaminar, fertilizava mentes. Nós, Satyros, assistíamos à distância — não exatamente por recato, mas porque, a partir de 1996, deixamos de estrear em Lisboa. Entre 1992 e 1996, passamos por quase tudo: do Teatro Ibérico ao Ritz Club, do Trindade à Barraca, do Museu da Cidade ao Teatro ABC do Parque Mayer. Quando demos por nós, já era hora de voltar para São Paulo. E voltamos.
Por quê? Porque sabíamos — e talvez eles também soubessem — que nunca seríamos plenamente acolhidos pela cultura portuguesa. Não por falta de afeto, mas por um tipo específico de estranhamento: aquilo que inspira também pode assustar. E nosso fascínio sobre aqueles jovens artistas recém-saídos da adolescência trazia em si uma espécie de sentença implícita: seríamos faísca, jamais brasa. E poucas certezas doem tanto quanto saber que, cedo ou tarde, alguém vai embora no dia seguinte.
Poucas vezes vi os Praga mencionarem essa origem. Lembro de uma única entrevista em que Pedro Penim nos citou de passagem, comentando — com alguma ironia, admitamos — nosso entendimento “pálido” de Stanislávski. E se quisermos medir por manuais soviéticos, talvez ele tenha razão. Mas também é verdade que, nos anos 1990, a cortina de ferro havia caído no mapa, mas não nas bibliotecas. Moscou seguia hermética, enquanto o que nos chegava vinha em pílulas, muitas vezes mal traduzidas, sempre mediadas por um filtro hollywoodiano. O que fizemos foi um tipo de alquimia possível: misturamos o que sabíamos do Actor’s Studio com o calor das madrugadas paulistanas e a inquietação das ruas lisboetas. Chamem de “Stanislávski freestyle”, se quiserem. O fato é que, com pouco na bagagem, conseguimos provocar deslocamentos que seguem reverberando até hoje. Elegância, afinal, é também saber inventar método onde não há manual.
No entanto, nada disso apaga o essencial: o teatro sobrevive a suas lacunas. O Praga que conhecemos hoje deve muito à Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, mas carrega, em seu subsolo emocional, as camadas subterrâneas daquelas aulas despretensiosas dos Satyros — uma genealogia que pulsa em cada risco que eles assumem.
E talvez o mais impressionante seja ver como aquele impulso original cruzou continentes e décadas. Daquela oficina, nasceria anos mais tarde um dos maiores e mais ousados projetos de formação teatral do planeta: a SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, em São Paulo. E, num desses arcos dramáticos que o acaso escreve com letra firme, o próprio Rodolfo García Vázquez — meu parceiro no Satyros e professor daquela oficina em Lisboa — encontra-se hoje em Berlim, como professor convidado da Ernst Busch, uma das mais prestigiadas escolas de teatro do mundo. Rodolfo passa este ano inteiro lá, ensinando o que começou, sem saber, naquela sala improvisada na Praça da Alegria, onde tudo ainda cheirava a começo.
E o resto? O resto virou história — essa entidade caprichosa que coleciona esquecimentos e, de vez em quando, nos devolve lembranças como quem devolve cartas que nunca chegaram ao destino.
Hoje, três décadas depois daquela travessia inaugural, é impossível olhar para os Praga sem um orgulho que não se explica pelo tempo, mas pela intensidade. Eles cresceram, reinventaram-se, desafiaram formas — e seguem empurrando o teatro contra seus próprios limites, como quem recusa qualquer cerca em terreno fértil.
O tempo, esse editor implacável, nos separou geograficamente — mas não desalinhou o afeto. Ver o que os Praga se tornaram é como encontrar um filho que seguiu seu próprio caminho: no gesto mais ousado, a lembrança de um olhar antigo; no risco mais belo, o eco de uma aula com cheiro de café e sonho.
Que sorte a nossa ter acendido, ainda que por instantes, aquela primeira chama. Porque há coisas que, uma vez incendiadas, não sabem mais ser silêncio.