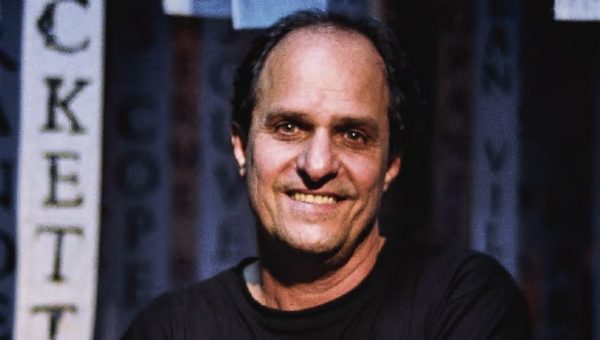por Lorenna Rocha
A peça de teatro online da Companhia Os Satyros (SP) tem como palco virtual a Plataforma Zoom. No início da atividade, dois atores instruem o público para a utilização da plataforma.
Todos nós passamos a ter funções dentro desse espaço: se os atores e atrizes, do lado de lá, tem que dar conta do texto, da sonoplastia, da troca de figurino e da iluminação, do lado de cá, desligamos nossas luzes, nossas câmeras e microfones e utilizamos o chat apenas quando solicitado pelo elenco. A ausência das barreiras geográficas, oferecida pela Internet, possibilita que, entre os 17 atores e atrizes em cena, tenha a presença da atriz sueca Ulrika Malmgren no espetáculo, mesmo ela residindo em Estocolmo.
Após 5.555 dias de isolamento social, a peça está no ano de 2035. Nesse ambiente distópico, é possível falar sobre passado e presente, sobre configurações da política nacional brasileira e dos sufocamentos diários promovidos pela inacabada crise sanitária. Apesar de estar ambientada quinze anos à frente de 2020, a montagem imprime diversas questões que nos assombram agora, além de projetar algum tipo de esperança para nosso futuro.
Se, em 2014, Os Satyros produziu uma série de espetáculos intitulada E se fez a humanidade em 7 dias, que abordou as relações da humanidade com a tecnologia, no contexto da pandemia mundial, esse diálogo se estreita e torna-se parte operacional de algo que já vem sendo experimentado de múltiplas formas pelo grupo em sua trajetória de mais de trinta anos. Mesmo na Plataforma Zoom, a experiência criada pela companhia paulistana transfere os códigos da linguagem teatral, unida à cinematográfica, para correr os velhos riscos com que nos deparamos quando nos lançamos no palco.
A ficção, que tem certa dimensão performativa, com núcleos narrativos fragmentados que se apresentam em sequências distintas, usa a câmera como aparato de se fazer ver ambientes e encenações, mas também como componente da subjetividade de alguns dos atores e atrizes. O uso das ferramentas do Zoom, como a mudança do background, e o uso do Chroma Key possibilitam a construção de cenários dentro desse ambiente virtual. Algumas cenas possuem elementos de um formato ainda emergente no cinema intitulado screenlife[1], em que a perspectiva de estar de frente para a tela, em situações cotidianas, é totalmente assumida. Isso acontece em alguns momentos, como aquele em que se realiza uma festa de aniversário por videochamada e durante a cena em que uma criança está jogando games online.
Quando a câmera se torna o olhar daquele que vê, ela passa a ser empunhada pelos atores para que o espectador tenha a experiência em primeira pessoa daquilo que está ocorrendo, ferramenta que já foi incorporada em diversas peças de teatro contemporâneo. Entretanto, enquanto espectadora mediada exclusivamente pela tela, esse recurso tecnológico amplifica o efeito da intersecção entre as linguagens, aumentando os contornos dos pequenos gestos de experimentação propostos pela companhia.
Boa parte das cenas ocorrem frontalmente à câmera. Em seu discurso cênico, elas buscam retratam as aflições de um mundo em que estabelecer contato com o que está fora de nossas casas está impossibilitado. Além disso, se posicionam criticamente em relação à ascensão do autoritarismo e do fascismo no Brasil, com personagens que usa camisas verde e amarela, na mesma proporção que hasteiam a bandeira dos Estados Unidos e com outras que vibram com imagens da Klu Klux Klan. Nesse sentido, o futurismo de A arte de encarar o medo torna-se plano de fundo para fazer uma crítica direta ao momento político em que estamos imersos, frente às tensões político-ideológicas que nos colapsam.
As narrativas escolhidas para a construção cênica, imersas nas vivências de pessoas que, sob diferentes condições e privilégios, estão cumprindo o isolamento social, me atentam para um questionamento. Se, por um lado, essa seja a tradução de um esforço de produzir reflexões – e interpelações críticas – sobre boa parte da classe média do país, sobretudo a ala mais conservadora, fico me perguntando quais imagens seriam possíveis para aquelas pessoas que teriam que encarar esse mundo distópico do lado de fora. Que, me parece, são as mesmas que o estão fazendo nesse agora.
Mesmo após o atravessamento de tantos sufocamentos e medos, o fim da peça se dá com a marchinha de carnaval As Águas Vão Rolar, onde se inicia uma festa carnavalesca por videochamada, mais uma vez utilizando-se de elementos do formato screenlife. Há uma tentativa de construir imagens menos pessimistas sobre aquilo que está por vir.
Como num rito, os atores e atrizes performam seus corpos para a câmera, entreolham-se por meio das telas e expressam um olhar de cumplicidade com um público que ainda nem é possível ver, até que se chegue o momento em que entendemos que é possível ativarmos nossas câmeras e nos livrarmos da mudez de nossos microfones para aplaudirmos a obra. Aqui, aquela potência energética convocada por Grace Passô, em Frequência 20.20, parece dizer: o teatro, apesar de tudo, está vivo.
[1] Para ver mais, acesse: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/O-que-%C3%A9-o-screenlife-alternativa-para-produzir-filmes-na-pandemia
Fonte: Quarta Parede